Esporte de alto rendimento: contexto e impactos na mente competitiva
- Raísa Bonatto
- 13 de jun. de 2017
- 13 min de leitura

“Na falta de um valor mais alto que oriente, a ação dirigir-se-á para a eficácia imediata. Se nada é verdadeiro nem falso, bom ou mau, a regra será mostrar-se o mais eficaz, quer dizer, o mais forte. O mundo não estará mais dividido em justos e injustos, mas em senhores e escravos.” – Albert Camus
Um dos elementos nos quais se estrutura nossa sociedade é o da eficiência técnica [1]. Ela está a serviço da competição. O sujeito ineficiente não vence. Competir não basta. É necessário competir bem. Preocupa-se em treinar habilidades físicas e psicológicas necessárias para um bom desempenho. Foco. Controle. Concentração. E o sujeito? Esquece-se suas angústias, suas vivências, dando ao trabalho como foco a vitória, não o ser humano [2]. É um processo de dessubjetivação [3], de negação da subjetividade [4].
Imposições e impossibilidades em mente, no texto anterior desta série foram mostrados alguns conceitos desenvolvidos pela psicanálise para que se tenha uma melhor compreensão dos possíveis encadeamentos desta linha teórica nos campos esportivo e jusdesportivo. A análise destes impactos, porém, é interligada ao estudo do contexto histórico e sociológico no qual surgiu o esporte de alto rendimento em sua concepção atual.
Daí é que Bracht e Rubio acreditam que o esporte moderno advém de uma mutação de partes da cultura corporal do movimento das classes populares na Inglaterra do início do século XIX. A industrialização, a redução da jornada de trabalho, o desenvolvimento de tecnologias da comunicação e do transporte modificaram os jogos tradicionais e teriam sido as grandes motivadoras da criação do conceito de esporte que temos na atualidade [5] [6] [7].
Antes ligado a festas ou religiões, o esporte aumentou consideravelmente sua abrangência [8][9][10]. Do século XIX, passou a servir como instrumento formador na educação inglesa, voltada para a formação física e moral dos futuros exploradores e colonizadores. Além disso, também tinha como função disciplinar os potenciais operários e soldados [11].
Do desporto escolar, a prática esportiva foi incorporada também à vida acadêmica universitária. Cambridge e Oxford, ainda nos anos 1800, organizaram a primeira regata entre as duas universidades [12]. Por estas razões, acredita-se que a intenção de continuar a prática esportiva após os estudos universitários associado ao direito inglês à livre associação deu vasão ao surgimento dos primeiros clubes esportivos [13][14].
Destoante, Norbert Elias vê de maneira distinta o surgimento do desporto na Inglaterra. Para ele, este surgimento não seria uma consequência da industrialização, mas o desencadear de uma mudança mais abrangente na sociedade da época. O desenvolvimento do conceito atual de esporte é uma parte do processo de civilização [15]. Tal processo se refere ao nível de tecnologia, ao tipo de maneiras, conhecimento científico, religiões e costumes de cada grupo [16].
Ao final do século XVI, com o declínio da hierarquia social medieval, a noção de “bem e mal” da conduta de cada indivíduo se viu alterada pela aceitação ou rejeição social da ação [17]. Assim, independente de sua classe social, as pessoas passaram a observar umas às outras para se enquadrar nos hábitos e ambientes.
Por volta do século XVII, nota-se um enrijecimento da hierarquia social, o que torna cada indivíduo mais sensível às pressões sociais. Isto motivou, também, um aumento da expectativa do sujeito perante os demais e sua interdependência [18].
Para Freud, este controle da rejeição e aceitação dos hábitos perante a sociedade reprime ainda mais uma violência inerente civilização [19]. Isto, pois as primeiras civilizações utilizavam como parâmetro de organização a força física. Os mais fortes determinavam suas vontades e mantinham a ordem social. Com o tempo, a força física foi substituída pela superioridade intelectual e, mais tarde, passou a ser representada pela lei, sem, no entanto, deixar de fazer parte do sujeito [20]. “A violência podia ser derrotada pela união, e o poder daqueles que se uniam representava, agora, a lei, em contraposição à violência do indivíduo só” [21].
Em decorrência destas transformações, os indivíduos passaram a, além de observar e se orientar pelos outros, controlar suas emoções [22]. Assim, surge a necessidade de buscar formas distintas de exprimir seus desejos em sociedade e individualmente. Neste contexto, a dependência das crianças face aos pais é de suma importância na regulação e modelagem impostas pela sociedade quando à contensão dos impulsos e emoções [23]. É daí que surge a ansiedade dos jovens, forçando-os a reprimir o prazer de acordo com o padrão social esperado.
Os impulsos do sujeito passaram a ser considerados patológicos sob a pressão social, tendo sido progressivamente suprimido da vida pública. Essa limitação das pulsões, cada vez menos físicas e em sujeitos cada vez mais novos, auxiliou-o na construção de um Superego¸ representante da moralidade do sujeito. Na descrição de Freud: "defensor da luta em busca da perfeição - o superego é, resumindo, o máximo assimilado psicologicamente pelo indivíduo do que é considerado o lado superior da vida humana" [24]. Assim, as conexões e proibições sociais tornaram-se cada vez mais parte do indivíduo, impedindo a prática de determinados hábitos até na esfera privada.
Neste contexto, o homem, que busca a felicidade e evita o sofrimento, se vê impedido dessa realização uma vez que sempre envolverá determinado grau de frustração, já que a realidade limita a continuidade narcísica de um Eu paradisíaco [25]. Sofrimento, este, derivado do freio das pulsões pela civilização. O ser humano, assim, aprendeu a controlar as exigências de suas pulsões sem, porém, abandonar a meta da satisfação [26].
A vida em civilização exige, ainda, a beleza, a limpeza e a ordem. A beleza, sendo o que não é lucrativo, como os jardins e enfeites; a limpeza, complementarmente, é exigida para que algo seja considerado belo; e a ordem é o regulamento imposto às obras do ser humano. A partir da ordem é que se decide como e onde algo será realizado, poupando os sujeitos de hesitação e indecisão [27]. A força que motiva os seres humanos é no sentido de aliar a utilidade da limpeza e da ordem ao prazer encontrado na beleza [28]. Estas características são facilmente percebidas no esporte.
A prática esportiva, então, se viu como uma forma criada pelos sujeitos para deslocar seus impulsos libidinais e agressivos, necessidade criada a partir da substituição da satisfação particular para o campo da cultura e da coletividade [29]. Assim é que atletas e torcedores encontram no esporte uma atividade sublimatória da manifestação de seus desejos inconscientes represados.
A atividade, porém, é limitada aos atletas e torcedores pelo ordenamento jurídico vigente, ressaltem-se as leis regentes do desporto e o Estatuto do Torcedor, e pelas regras do jogo. Muitas vezes, no entanto, ambos os sujeitos excedem os limites de agressividade impostos à atividade e praticam a violência. As situações e motivos de violência são inúmeros, sendo eles individuais e coletivos. É uma constante na realidade do futebol brasileiro [30].
A prática esportiva e a torcida, então, vistas pela ótica da psicanálise Freudiana advêm da impossibilidade de eliminar os impulsos agressivos do homem. Quando esta agressividade é internalizada, o sujeito cria uma tensão inconsciente entre o Ego e o Superego, denominada culpa inconsciente. Esta culpa é assumida para que cada indivíduo possa integrar a coletividade [31], não sendo necessariamente algo ruim, mas algo que, em sua dependência de outras pessoas, o faça sentir ameaçado com a ideia de solidão ou a ausência do amor externo [32].
Em tese, o esporte disciplinado vem ao encontro do desejo vitoriano de impor certo controle às paixões indômitas, limitando a agressividade e deslocando-a para a construção e não para a destruição. É um equivalente moral para a agressividade [33].
A prática esportiva e a torcida seriam, então, a possibilidade do sujeito deslocar o desejo de agressividade sem que sinta, internamente, culpa. Além disso, a imposição de regras do jogo, a partir das quais o atleta sabe as ações permitidas ou não, funciona de forma análoga ao Superego. Sendo o esporte um complemento da sociedade, sua dinâmica representa a prática social, possibilitando ao atleta um autoconhecimento de sua organização psíquica em outros ambientes [34]. Pela ótica psicanalítica [35], então, a intervenção do Estado e das entidades organizadoras do desporto e com intuito de deter a agressividade dos atletas e torcedores é semelhante à intervenção dos pais sobre seus filhos quando estes demonstram agressividade. Essa autoridade, limitadora das pulsões do sujeito, faz com que ele acredite, por meio da autoridade interna do Superego, que algumas de suas atitudes merecem punição.
Neste contexto de interdependência social e deslocamento da satisfação para a coletividade, tem-se o ideal do eu. O ideal do eu é a posição do sujeito na estrutura imaginária [36], seu desejo. Ele possui, além de seu aspecto individual, um aspecto social [37]. Sua constituição se dá através de valores culturais, morais e críticos, desenvolvidos na relação do sujeito com seus pais e na sociedade [38]. O sujeito se relaciona com a imagem do Outro e assim vê o que nele sente falta, sem o que se considera incompleto [39]. É o que o sujeito deseja ter para que possa ser completo, mas vê nele uma ausência. A partir desta falta é que o sujeito vê o ser humano como um ser privado e abandonado [40]. Traz uma noção de identidade paradoxal, por ver sua completude na identidade do Outro [41].
O mesmo vale para o atleta de alto rendimento. Além de buscar alcançar pela via imaginária um estado, antes perdido [42], mítico e onipotente (o herói), ele também treina e se sacrifica reconhecendo a falta presente na via simbólica. Almeja superar os limites do seu corpo e desempenho. É o que dita nossa eficiente sociedade.
Ao que diz a psicanálise freudiana, o sujeito que ama investe o objetivo de amor no lugar de ideal do eu, se afligindo com desinvestimento em si, contrariando o narcisismo em favor do objeto do amor [43]. Assim, quando o atleta é submetido a uma rotina de treinos a qual o exclui como sujeito de desejo, a qual não respeita suas limitações, corre-se o risco de cair num apagamento subjetivo para atender a esse discurso do Outro [44].
Além disso, num cenário de constante pressão dos limites, a cultura esportiva impõe a visão da dor física não como defesa natural à vida, mas como barreira a ser ultrapassada na obtenção de um resultado positivo [45], excluindo a subjetividade do sujeito e suas vontades na escolha pela prática ou não de atividades penosas. Desta forma, vê-se que quando o ideal do eu envolve o sujeito imperfeito com ausências da ordem da impossibilidade de obtenção, as limitações do corpo são vistas como impotência, causando uma ferida narcísica [46].
Este traço no esporte é característico de uma sociedade que, herdeira de um modelo econômico neoliberal [47], não reconhece realisticamente suas limitações [48]. No esporte, o sentimento de culpa e incapacidade é uma constante consequência da era da vigência irrestrita do gozo [49]. Esta vontade do impossível traz à realidade do sujeito, em verdade, um novo possível [50]. Daí é que o atleta se supera. Porém, quando a realidade é vista pelo sujeito como algo manipulável (herança da falsa noção científica de que a possibilidade do impossível é apenas uma questão de tempo [51][52]), ela é esquecida e confundida com a noção de que tudo é possível. Assim, torna-se quase que inevitável a experiência do atleta de angústia [53].
Através da teoria psicanalítica, é possível enxergar, então, como o ideal de superação e perfeição técnica, imposto ao esporte pelo fundamentalismo de mercado do modelo neoliberal [54], traduz-se num imperativo de crueldade na realidade do atleta. Desta forma, descobre-se a necessidade de tratar o atleta em sua individualidade [55]. Ele é parte de um grupo o qual busca constante superação, sim, sem, no entanto, abdicar de sua independência e originalidade [56]. Assim é que a angústia gerada pela dessubjetivação marcante dos tempos atuais pode ser mitigada no reconhecimento do atleta como sujeito de desejo.
Nesta linha, o próximo texto da série apontará alguns dos impactos deste contexto no que se denomina justiça desportiva e seus operadores. Será abordada parte da análise sobre como o direito, uníssono ao esporte, não escapa a algumas gravidades acarretadas por um modelo e sociedade caracterizados por sua dissolução.
Referências Bibliográficas:
[1] MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Neoliberalismo e o Gozo, em VESCOVI, Renata Conde (org.). A Lei em Tempos Sombrios. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2009.
[2] DIAS, Mariana H.. Sobre o Esporte de Alto Rendimento: Reflexões a partir da Psicanálise e da Utopia. 2009. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social e Institucional) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
[3] MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Neoliberalismo e o Gozo, em VESCOVI, Renata Conde (org.). A Lei em Tempos Sombrios. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2009.
[4] REGIS, Vitor Martins. O acontecimento democracia corinthiana: cartografando estratégias de resistência ao modo de subjetivação capitalístico através do plano das práticas esportivas. 2004. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social e Institucional) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.
[5] BRACHT, Valter. Sociologia Crítica do Esporte: uma introdução. Vitória: UFES, 1997.
[6] RUBIO, Kátia. O Trabalho do Atleta e a Produção do Espetáculo Esportivo. Revista Electronica de Geografia y Ciências Sociales, Barcelona, v. VI, n.. 119, agosto 2002. Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-95.htm> . Acesso em 15/05/2017.
[7] RUBIO, Kátia. Do Olimpo ao Pós-Olimpismo: elementos para uma reflexão sobre o esporte atual. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, v.16, n.2, jul./dez, 2002.
[8] BRACHT, Valter. Sociologia Crítica do Esporte: uma introdução. Vitória: UFES, 1997.
[9] RUBIO, Kátia. O Trabalho do Atleta e a Produção do Espetáculo Esportivo. Revista Electronica de Geografia y Ciências Sociales, Barcelona, v. VI, n.. 119, agosto 2002. Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-95.htm> . Acesso em 15/05/2017.
[10] RUBIO, Kátia. Do Olimpo ao Pós-Olimpismo: elementos para uma reflexão sobre o esporte atual. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, v.16, n.2, jul./dez, 2002.
[11] RUBIO, Kátia. O Trabalho do Atleta e a Produção do Espetáculo Esportivo. Revista Electronica de Geografia y Ciências Sociales, Barcelona, v. VI, n.. 119, agosto 2002. Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-95.htm> . Acesso em 15/05/2017.
[12] BRACHT, Valter. Sociologia Crítica do Esporte: uma introdução. Vitória: UFES, 1997.
[13] BRACHT, Valter. Sociologia Crítica do Esporte: uma introdução. Vitória: UFES, 1997.
[14] ELIAS, Norbert; DUNNING, Eric. A busca da excitação. Lisboa: Difel 82, 1992.
[15] ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, v.1, 1994.
[16] ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, v.1, 1994.
[17] ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, v.1, 1994.
[18] ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, v.1, 1994.
[19] FREUD, Sigmund. (1932-1936) Por que a guerra? Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.22, 2006.
[20] FREUD, Sigmund. (1932-1936) Por que a guerra? Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.22, 2006.
[21] FREUD, Sigmund. (1932-1936) Por que a guerra? Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.22, 2006.
[22] ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, v.1, 1994.
[23] ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, v.1, 1994.
[24] ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, v.1, 1994; FREUD, Sigmund. (1932-1936) Por que a guerra? Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.22, 2006.
[25] FREUD, Sigmund. (1930) O mal-estar na civilização. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.21, 2006.
[26] FREUD, Sigmund. (1930) O mal-estar na civilização. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.21, 2006.
[27] FREUD, Sigmund. (1930) O mal-estar na civilização. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.21, 2006.
[28] FREUD, Sigmund. (1930) O mal-estar na civilização. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.21, 2006.
[29] MORAES, Guilherme Campos de. Violência no desporto. Parte I: o indivíduo nas arquibancadas.
[30] Ver : <http://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/2013/12/briga-na-arquibancada-paralisa-jogo-entre-furacao-e-vasco.html>; <http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2017/02/laudo-revela-que-causa-da-morte-de-botafoguense-nao-foi-arma-de-fogo.html>; <https://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2017/04/26/felipe-melo-acerta-soco-em-uruguaio-e-jogo-do-palmeiras-termina-em-briga.htm >; <http://globoesporte.globo.com/mg/futebol/noticia/briga-entre-torcedores-fecha-parte-do-transito-em-viaduto-de-bh-veja-video.ghtml >; etc.
[31] FREUD, Sigmund. (1930) O mal-estar na civilização. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.21, 2006.
[32] BANDEIRA, Tânia Leandra. Esporte Competitivo: Contribuições da Psicanálise e suas Implicações para uma compreensão da angústia. 2012. Tese (Doutorado em Educação Física e Sociedade) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física e Sociedade, Universidade Estadual de Campinas.
[33] GAY, Peter. A experiência burguesa da Rainha Vitória a Freud. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
[34] BANDEIRA, Tânia Leandra. Esporte Competitivo: Contribuições da Psicanálise e suas Implicações para uma compreensão da angústia. 2012. Tese (Doutorado em Educação Física e Sociedade) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física e Sociedade, Universidade Estadual de Campinas.
[35] FREUD, Sigmund. (1930) O mal-estar na civilização. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.21, 2006.
[36] LACAN, J. (1953-1954) Os Escritos Técnicos de Freud. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1995.
[37] FREUD, Sigmund. (1914) Sobre o Narcisismo: Uma Introdução. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.14, 1996.
[38] NOVAES, M. A. de A.. Como se faz corpo? Considerações sobre o ideal em Freud e Lacan. Pulsional: Revista de Psicanálise, ano XVIII, n. 182, jun/2005.
[39] FREUD, Sigmund. (1922) Psicologia de Grupo e Análise do Ego. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.18, 1996.
[40] LACAN, J. (1956-1957) A Relação de Objeto. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1995.
[41] NOVAES, M. A. de A.. Como se faz corpo? Considerações sobre o ideal em Freud e Lacan. Pulsional: Revista de Psicanálise, ano XVIII, n. 182, jun/2005.
[42] Ver narcisismo primário em: <https://direitonoesporte.wixsite.com/direitonoesporte/single-post/2017/06/01/Psican%C3%A1lise-Esporte-e-Direito-uma-s%C3%A9rie-sobre-a-mente-no-alto-rendimento >.
[43] FREUD, Sigmund. (1922) Psicologia de Grupo e Análise do Ego. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.18, 1996.
[44] DIAS, Mariana H.. Sobre o Esporte de Alto Rendimento: Reflexões a partir da Psicanálise e da Utopia. 2009. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social e Institucional) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
[45] VAZ, Alexandre F. Treinar o corpo, dominar a natureza: Notas para uma análise do esporte com base no treinamento corporal. Caderno Cedes, a xix, n. 48, ago. 1999.
[46] DIAS, Mariana H.. Sobre o Esporte de Alto Rendimento: Reflexões a partir da Psicanálise e da Utopia. 2009. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social e Institucional) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
[47] MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Neoliberalismo e o Gozo, em VESCOVI, Renata Conde (org.). A Lei em Tempos Sombrios. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2009.
[48] MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Subsídios para Pensar a Possibilidade de Articular Direito e Psicanálise. In Direito e Neoliberalismo: Elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996.
[49] MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Neoliberalismo e o Gozo, em VESCOVI, Renata Conde (org.). A Lei em Tempos Sombrios. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2009.
[50] LEBRUN, Jean-Pierre. Um mundo sem limites: ensaio para uma clínica psicanalítica do social. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2004.
[51] MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Subsídios para Pensar a Possibilidade de Articular Direito e Psicanálise. In Direito e Neoliberalismo: Elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996.
[52] LEBRUN, Jean-Pierre. Um mundo sem limites: ensaio para uma clínica psicanalítica do social. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2004.
[53] FREUD, Sigmund. (1893-1899) Resposta às críticas a meu artigo sobre a neurose de angústia. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.3, 2006.
[54] MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Neoliberalismo e o Gozo, em VESCOVI, Renata Conde (org.). A Lei em Tempos Sombrios. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2009.
[55] FREUD, Sigmund. (1922) Psicologia de Grupo e Análise do Ego. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.18, 1996.
[56] FREUD, Sigmund. (1922) Psicologia de Grupo e Análise do Ego. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, v.18, 1996.







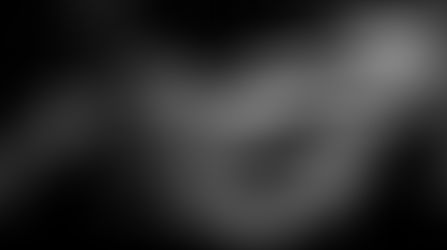













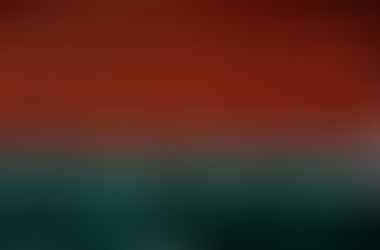






















Comentários