Vamos falar de gênero no esporte?
- Felipe Tobar e Samir Abdala
- 26 de abr. de 2017
- 20 min de leitura

Conforme detectado por Pfister e Bandy (2016, p. 221), historicamente, as atividades físicas expressam objetivos e padrões específicos que absorvem os valores de um grupo social em particular, refletindo estruturas e ideologias de diferentes culturas.
Segundo Butler (1990), o atual universo esportivo, criado na Inglaterra Vitoriana, detém uma matriz heterossexual, obrigando aos esportistas a apresentarem-se como homens ou mulheres, em uma perseguida coerência de sexo, gênero e desejo. Aqueles que falham com essa perspectiva, acabam causando conflitos, ou, segundo a autora, “Problemas de Gênero”.
Cabe destacar que as discussões de gênero e sexualidade nos esportes é antiga, ainda que pouco enfrentada ao longo do último século, especialmente por envolver debates sobre intolerância. Vimos serem lançados argumentos que sugerem “excessiva masculinidade” em determinadas mulheres, como vivenciou Zdenka Houbkova, recordista mundial da prova de 800 metros com barreiras do Campeonato Mundial de 1934, e que se repetem, atualmente, sendo símbolos desse cenário, as corredoras Carsten Semenya e Dutee Chand, e as jogadoras transgêneros de vôlei, Tiffany Abreu, pertencente ao Golem Volley Palmi, da Série A2 (2ª divisão) da Liga Feminina Italiana, e Isabelle Neris, atleta amadora que disputa competições organizadas pela Federação Paranaense de Voleibol (FPV).
A realidade dessas atletas é permeada por inúmeras dificuldades, seja na esfera pessoal, seja na profissional, sob olhares preconceituosos e julgadores, tanto das comunidades nas quais residem quanto de atletas e torcedores adversários, os quais, comumente, lançam ataques verbais em relação à opção de gênero eleita [1], carregados de denúncias de que gozariam de vantagem competitiva perante as demais participantes, como afirmou Ronda Rousey em relação à Fallon Fox, primeira atleta trans da história do MMA. [2]
Nesse sentido, o Direito, campo supostamente regulador dos conflitos sociais, através de regulamentações de federações esportivas e diplomas transacionais públicos, há décadas busca, por meio de um processo ainda incompleto, definir diretrizes de elegibilidade aos atletas “outsiders”, para novamente utilizarmos a linguagem de Pfister e Bandy (2016).
Assim, ainda que brevemente, debateremos, sob as óticas social e jurídica, as diferenças de gênero e de sexualidade no universo esportivo, buscando responder: a) se há violação ao princípio do “par-condition” mediante a participação de atletas trans em competições, especialmente, a participação daquelas que assumiram a identidade feminina, assim como de mulheres com hiperandrogenia; b) se o discurso acerca dos direitos humanos pode influenciar nas políticas de elegibilidade.
1. A matriz heterossexual do esporte
Consoante relembra Pfister (2003), “os esportes modernos criados na Inglaterra, assim como as ginásticas alemã (Turnen) e sueca, foram inventados por e para homens, excluindo garotas e mulheres até o final do século dezenove”. Heggie (2010) explica que a aparência física, a musculatura, a competição e o perpétuo risco de esterilidade foram utilizados como escusas para excluir as mulheres de muitas atividades esportivas, cabendo a elas tão somente participar em restritas competições sexualmente segregadas.
Em que pese, atualmente, o preconceito tenha diminuído – ou, em parte, seja tolerado –, mulheres que disputam competições atléticas, tais como arremesso ou levantamento de peso, além de outras que, supostamente, seriam reservadas aos homens são vistas como lésbicas, por adquirir atributos físicos similares aos corpos masculinos. De outro lado, atletas do sexo masculino, que disputam competições em que a leveza dos movimentos corporais faz parte da técnica, como as ginásticas artística e rítmica, acabam sendo caracterizados como pertencentes ao universo gay.
Essa pretensa desconformidade de gênero os transformam em vítimas de um processo de construção social secular a qual admite, apenas, a existência de dois gêneros (masculino e feminino). Sem embargo, recentemente, o termo e a noção “genderqueer” foi desenvolvida para identidades de gênero que não se adéquam ao esquema binário, homem e mulher, ou em outra qualquer categorização fixa (Winter, 2010).
O conhecimento dessa fluidez de gênero, reforçado em protestos de atletas e grupos ligados aos direitos humanos, insatisfeitos com as barreiras do sistema binário esportivo, causou nas federações internacionais esportivas a reconsideração e a mudança de suas políticas de verificação de sexo iniciadas no século XX (PFISTER; BANDY, 2016).
2. As políticas de verificação de sexo e gênero nos eventos esportivos
Após reportagem da revista americana Time, em 1936, dando conta de que as atletas Mary Weston e Zdenka Koubkova, eram, na verdade, hermafroditas que ameaçavam o futuro do esporte feminino, o presidente do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, Avery Brundage, inaugurou os julgamentos sobre a elegibilidade de atletas em competições femininas, instaurando um processo de exames de verificação de ambiguidades sexuais.
A antiga Federação Internacional de Atletismo Amador, atual Federação Internacional de Atletismo (IAAF), no ano de 1946, e o COI, em 1948, introduziram a determinação de que atletas mulheres apresentassem, no ato da inscrição, certificado médico comprovando que reuniam condições para competir na categoria feminina (HEGGIE, 2010). Sem, no entanto, definirem o que seria feminilidade, prevaleceu a definição sociocultural de cada país, como o corte de cabelo e as roupas utilizadas, resultando na definição da biologia da atleta (sexo) através da análise de características externas (gênero) (KARKAZIS; JORDAN-YOUNG; DAVIS; CAMPORESI, 2012).
Com a crescente pressão em obter vitórias no campo esportivo para servir à propaganda política durante a Guerra Fria, foi deflagrado um sistema de fraudes relacionadas ao gênero, dando ensejo aos primeiros testes físicos consistentes no exame visual das genitálias e de características secundárias das atletas, inaugurado no Campeonato Europeu de Atletismo, realizado em Budapeste, no ano de 1966. Nesse mesmo período, a fim de atender os reclamos das atletas contra os “paredões de nudismo” [3] que eram obrigadas a enfrentar, a IAAF instituiu o primeiro teste “científico” de verificação de exame de sexo, conhecido como Teste de Cromatina Sexual, o qual logo se mostrou falho. A corredora polonesa Ewa Kłobukowska, inobstante tivesse passado no teste visual no ano anterior na capital húngara, acabou sendo reprovada no exame para a Copa Europa de 1967, em Kiev. De acordo com Ritchie, Reynar e Lewis (2008), acredita-se que Ewa, que daria à luz uma criança um ano depois e abalaria a confiança em referido teste, possuía um mosaico cromossômico que lhe qualificava como homem.
A substituição desse tipo de teste se deu vinte anos depois, em caso envolvendo a espanhola Maria Martinez Patiño, que, após falhar no teste cromossômico, durante os Jogos Mundiais da Juventude de 1985 e ser desqualificada da competição por ser, também, considerada “cromossomicamente homem”, logrou provar com o suporte dos pesquisadores Arne Ljungqvist e Albert de La Chappelle, que sempre falharia no teste porque sofria da síndrome da insensibilidade androgênica (IAS), a qual lhe impossibilitava utilizar seus altos índices de testosterona na corrente sanguínea para ganho de vantagem esportiva.
Diante disso, no ano de 1988, a IAAF abandonou os testes cromossômicos, retornando testes visuais e manuais, com auxílio dos procedimentos antidopagem. O COI se mostrou resistente às mudanças e introduziu o teste de “SRY” (sex-determining region Y), responsável em identificar uma específica região cromossômica presente no cromossomo Y, o que, segundo Dingeon (1993), foi considerado para a entidade a fonte da vantagem atlética masculina. Após equivocados julgamentos constatados nas Olimpíadas de Atlanta, finalmente, em 1999, o COI concordou em seguir as regras da IAAF, desautorizando a realização de testes sexuais.
Destarte, o que se seguiu foram exames sendo realizados, em escalas pontuais, por médicos que analisavam através de exames e testes laboratoriais, o sexo da atleta que era posto em dúvida (GENEL, 2000; TIAN et. al., 2009). Para Karzakis et. al. (2012, p. 7), “a política de verificação sexual, criada pela preocupação de identificar homens se passando por mulheres no esporte de elite, na verdade somente identificou dois casos de homens tentando competir como mulheres (COLE, 2000), e, sobretudo, aumentou a discussão de uma possível ‘injusta vantagem’ entre mulheres com traços intersexuais”.
Por tais razões, em 12 de novembro de 2003, o COI se reuniu e publicou o “Consenso de Estocolmo sobre Mudanças de Sexo no Esporte”, o qual exigia terapia de substituição hormonal com antecedência mínima de dois anos das competições, com o intuito de minimizar vantagens de gênero nas pugnas esportivas, bem como que o gênero escolhido fosse reconhecido na nação de origem da atleta e, ainda, submissão obrigatória de cirurgia reconstrutiva da genitália.
Seis anos após a efetivação dessas diretrizes, a atleta Caster Semenya, por ter uma semelhança física com atletas masculinos e pela forma como venceu os 800 metros livres no Campeonato Mundial de Atletismo, reacendeu as discussões sobre gênero no esporte e a necessidade de incluir, nessa pauta, os direitos humanos. Isto porque documentos comprovaram que a sul-africana foi submetida a duas horas de exames em que médicos colocaram suas pernas para cima e fotografaram sua genitália (LEVY, 2009; SMITH, 2009 apud KARKAZIS et. al., p. 7), tendo supostamente revelado tratar-se de atleta com características intersexuais que a deixaram sem útero ou ovários e com testículos não descendidos, produzindo andrógenos três vezes superior ao nível típico de uma mulher (HURST, 2009). Afirmou-se, mais tarde, que Caster sofria de hiperandrogenia (termo utilizado para descrever a excessiva produção de hormônio andrógeno, a testosterona).
Devido às críticas surgidas após tratamento dado à atleta, a IAAF junto ao COI, decidiu pela revisão dos procedimentos futuros para elegibilidade de atletas mulheres com hiperandrogenia. Após uma série de encontros internacionais, a IAAF, em 1º de maio de 2011, anunciou a publicação do documento intitulado “Regulamentos da IAAF para elegibilidade de mulheres com hiperandrogenia”.
De acordo com a política, para elegibilidade em qualquer competição, atletas mulheres que extrapolassem o limite de 10nmol/L de testosterona, ainda que não deixassem de ser consideradas mulheres, deveriam se submeter a procedimento cirúrgico para remoção das gônadas ou a tratamento de redução hormonal, em razão da crença de que os hormônios andrógenos eram os componentes primários de uma vantagem biológica atlética. Tais regras, no entanto, seriam combatidas com a revelação do caso envolvendo a corredora indiana Dutee Chand, proibida de competir na categoria feminina dos Jogos da Commonwealth de 2014, depois de ter sido diagnosticada com hiperandrogenia, apesar de apresentar o fenótipo de uma mulher comum.
Os bastidores da confirmação do diagnóstico foram, assim como no caso de Semenya, reprovados por defensores dos direitos humanos. Segundo a versão de Chand, transcrita nos autos da apelação que tramitou na Corte Arbitral do Esporte (CAS) [4], a atleta teria sido enganada ao ser submetida a exames de verificação de sexo, sob o pretexto da criação de seu perfil de alto desempenho pela Federação de Atletismo da Índia (AFI).
Dutee, a qual fez, também, o teste de cromatina sexual, revelou que os exames foram conduzidos por médicos homens que, não só questionaram sobre seu cabelo, seu ciclo menstrual, seu histórico cirúrgico e seus hobbies, mas analisaram sua região genital. Mesmo sentindo-se vulnerável, Chand não teve escolha a não ser anuir aos testes que buscavam detectar se a concentração de testosterona em seu corpo era superior a 6.9nmol/L, em atendimento as regras da ADI sobre hiperandrogenia, criadas em 2013, pelo Ministro do Esporte da Índia.
Tendo os resultados dos exames positivos às suspeitas da AFI, que buscava evitar possíveis embaraços à imagem do país no contexto internacional, em agosto de 2014, a atleta foi notificada de que estava suspensa de qualquer competição. Recorreu, imediatamente, ao CAS, alegando que: a) a política adotada produz ilegal discriminação contra atletas mulheres e contra atletas que possuem uma particular e natural característica física; b) é baseada em suposições e não em provas sobre a relação entre testosterona e desempenho atlético; c) são desproporcionais para qualquer legítimo objetivo; d) é uma forma não autorizada de controle de doping.
Em análise superficial e antecipatória, para o Painel do CAS, as provas para justificar a discriminação de um direito fundamental, o qual inclui o direito das atletas com hipeandrogenia de competirem, deveriam ser apresentadas de modo a atingir um nível maior do que a mera probabilidade da argumentação estar correta, ou seja, deveria a IAAF, de modo eficaz e seguro demonstrar que a discriminação era justificável, proporcional, razoável, e, portanto, necessária.
Para a corte arbitral, em que pese Dutee não tenha provado que não exista relação entre testosterona endógena e desempenho atlético, a IAAF igualmente falhara em providenciar evidências científicas suficientes que demonstrassem haver aumento de vantagem esportiva por atletas com hiperandrogenia, não justificando a separação entre mulheres na categoria feminina.
O estudo “Sport in Transition: Making Sport in Canada More Responsible for Gender Inclusivity” influenciou na decisão do Painel ao revelar que entre 200 e 300 genes afetam o desempenho esportivo (incluindo fluxo sanguíneo para os músculos, estrutura muscular, transporte de oxigênio, rotatividade de lactato, produção de energia e variações mitocondriais que aumentam a capacidade aeróbia e a resistência) e que apontar um único marco como a testosterona era extremamente limitador para fundamentar as bases de uma exclusão ou de vantagem esportiva.
Ainda, para o CAS, a IAAF precisaria ter provado que a hiperandrogenia por si só é mais vantajosa de que boas condições de treinamento, bons métodos de nutrição e treinadores, dos quais muitas atletas que não sofrem dessa síndrome desfrutam em relação àquelas que são portadoras. Diante disso, não foi validado o regulamento, assim como o suspenderam por um período de dois anos, sujeita a nova revisão.
Inobstante a essa decisão, em novembro de 2015, o COI se reuniu para estabelecer as exigências de elegibilidade para atletas trans e intersexuais para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, resultando no lançamento do “IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism November 2015”.
Além de revogar a obrigatoriedade aos atletas trans femininos de serem submetidos a uma cirurgia como pré-condição de participação, eis que, reconhecidamente inconsistente com as legislações que abordam os direitos humanos, reduziu para doze meses o tempo de comprovação da estabilização do nível de testosterona abaixo de 10nmol/L, antes da primeira competição, tendo em vista que aqueles que realizaram a transição de mulheres para homens permaneciam livres para competir na categoria masculina sem nenhuma restrição.
Como é possível perceber, as políticas de verificação sexual e de gênero implementadas, historicamente, no esporte, majoritariamente, se revelaram injustas para as atletas no plano esportivo, afetando-as, consequentemente, na esfera pessoal. A ausência de estudos científicos que sustentem com garantia os procedimentos a que são submetidas forçam a promoção de discussões dotadas de maior sensibilidade, sobre como tais políticas afetam o direito de autoidentificação, especialmente, de atletas trans. Dessa forma, revelando, no próximo tópico, a realidade vivida por esses sujeitos, o caminho será menos tortuoso para buscarmos soluções a esse controverso universo, especialmente por envolver o importante princípio do “par-condition”.
3. A realidade dos atletas “outsiders”
Segundo Chris Mosier, membro da equipa norte-americana de Decatlo e o primeiro homem trans nos EUA a entrar para uma equipa esportiva no país, os trans, em geral, já estão sujeitos a mais discriminação e violência. Chloe Anderson, atleta trans da Universidade de Santa Ana, na Califórnia em entrevista à revista “VICE”, questionada sobre a ideia de um dia se qualificar para as Olimpíadas, respondeu ter medo de nunca chegar tão longe na carreira, seja por conta do processo cansativo de transição, seja porque “mencionar que era trans significava ser imediatamente dispensada pelos treinadores".
De acordo com o site “transathlete.com”, durante a administração Obama, as escolas foram orientadas a tratar estudantes trans segundo o gênero com que se identificam, permitindo o acesso a instalações, como vestiários, e a participação nas aulas de educação física com o grupo eleito. Entretanto, vozes contrárias ecoaram e mantém políticas diametralmente opostas a sugerida pelo ex-presidente americano. No Texas, por exemplo, o gênero nas escolas – e nos programas atléticos estudantis – é definido pela certidão de nascimento. Em outros estados, como Kentucky, Idaho, Indiana e Nebraska, é obrigatória a submissão a tratamentos cirúrgicos ou hormonais para tornar-se elegível nas competições estudantis.
Somadas às resistências para a inclusão de atletas trans no campo esportivo, se atletas mulheres enfrentam disparidades econômicas em relação aos atletas homens, fica claro o quão árduo será – e é – para atletas trans superarem adversidades tais como essa. As dificuldades, além disso, se intensificam após a mudança de sexo ou em razão dos tratamentos hormonais. Mianne Bagger, atleta dinamarquesa transexual de golfe, recorda que, com as mudanças hormonais, vem, também, a alteração no centro de gravidade, o que dificulta a (re)adaptação ao novo corpo, passando por uma espécie de nova puberdade, o que requer se acostumar com essa mudança.
Existe, também, segundo Tiffany Abreu, igualmente, um rechaço por atletas trans, em ser lembradas pelo nome masculino, aflorando a discussão sobre o respeito em aceitar que essas atletas não se reconhecem nos corpos que, por vezes, queremos que permaneçam. Por consequência, esse fervente e preconceituoso caldo cultural-social-esportivo atinge, certamente, o direito de autoidentificação de atletas trans que, todavia, não se declararam como tais publicamente - e, talvez, nunca o façam –, em virtude do estigma criado e constantemente difundido. A manutenção desse cenário contribui para perpetuar a política binária de divisão de naipes, sustentada na exigência de regulação por níveis de testosterona.
Dessa maneira, cabe o questionamento: existiriam soluções para convivermos com as diferenças de gênero e de sexualidade no esporte, além das ofertadas pelas entidades desportivas?
4. Que caminho seguir?: alternativas ao Sistema Clássico
Conferindo, nesse espaço de discussão, mais atenção aos atletas trans, tendo em vista que, no que importa a hiperandrogenia, subscrevemos a decisão do CAS, em virtude, sobretudo, da inexistência de provas científicas que justifiquem a proibição de mulheres com essa síndrome competir na categoria feminina, sabemos, por outro lado, que estudos científicos foram capazes de afirmar que as vantagens atléticas (ganho de massa magra, aumento muscular, força e resistência) se dão, ainda que não exclusivamente, a partir do aumento dos níveis de testosterona (BHASIN et. al., 1996; RONNESTAD et. al., 2011; STORER et. al., 2003 apud KARKAZIS et. al., 2012, p. 08). Assim, ainda que o referido hormônio contribua para o ganho de benefícios competitivos, ele não poderá ser tido como único diferenciador que justifique a divisão entre mulheres na categoria feminina, como querem COI e IAAF, ou mesmo entre homens e mulheres.
Quanto a essa afirmação, a fim de não caracterizarmos como provocação, em decorrência da discussão sobre a hiperandrogenia estar aberta e não ter significado a submissão de Chand a tratamentos hormonais, permitindo-a competir nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, surgiram, ainda que em pequeno número, atletas que desejam usufruir do mesmo direito aplicado à atleta indiana, isto é, de não serem submetidas à intervenção cirúrgica ou hormonal, e competirem, assim, nas categorias que entendem pertencer (HARPER, 2016).
Chegamos, portanto, às principais questões em pauta nas entidades esportivas internacionais, as quais carecem de solução: Poderá uma atleta trans (homem para mulher), sem tratamentos hormonais, disputar competições na categoria feminina?; Tem, o esporte, autonomia para proibir um atleta que se identifica como mulher a competir como tal?; O direito humano à autoidentificação superaria o princípio que visa garantir uma “competição justa”?; Estará o esporte destinado a ser governado sem uma política de gênero?
Entendemos indispensável, se não encontrarmos respostas apresentar, ao menos, alternativas a esses questionamentos, os quais, se aceitos, significaria o abandono dos tratamentos hormonais ou cirúrgicos ora em curso. Cabe ressaltar que refletiria, também, - e, de forma sensível na possibilidade da participação de mulheres em naipes masculinos, o que, como veremos, já ocorre com desfechos “surpreendentes”.
Para Pieper (2012, 2014) e Sullivan (2011), em virtude da identificação como mulher poder ser contestada por oficiais, árbitros ou outras atletas, alguns acadêmicos, feministas e ativistas dos direitos humanos propõem que a estrutura dual baseada no sexo deve ser abandonada, sendo corroborado por estudos científicos que apontam não ser o sexo algo objetivo consistente em categorias masculinas e femininas, possuindo, no mínimo, seis marcadores, os quais incluem cromossomos, gônadas, hormônios, características sexuais secundárias, genitália externa e genital interna, não sendo nenhum destes de natureza binária (KARKAZIS et. al., 2012, p. 06).
Chloe Anderson, atleta trans antes mencionada, entende que uma alternativa seria a existência de competições não-binária, na qual todos possam participar em par de igualdade, sem distinção de gênero. Para Harper, no entanto, esse cenário seria um pesadelo, não apenas para o universo esportivo feminino, mas para o aumento da aceitação de sujeitos trans em todos os espaços sociais.
Importa destacar que, nas análises do caso “Dutee Chand vs IAAF, COI e FAI”, houve um entendimento mútuo de que, na média geral, ao menos no atletismo, os homens, naturalmente, são mais rápidos e mais fortes do que as mulheres (entre 10% e 12%), bem como que a divisão entre categorias masculina e feminina serve a garantir às mulheres que compitam em situação maior de igualdade. Dessa forma, se preservaria o princípio da “par-condition”, o qual prima pela soberania da incerteza do resultado entre os competidores.
Contudo, é sabido que generalizações podem, muitas vezes, serem equivocadas. A difundida ideia de que mulheres são mais fracas que os homens – prova disto o fato de que tenistas mulheres somente podem competir até três sets enquanto, aos homens, é permitido melhor de cinco sets -, é um desses exemplos e vem impossibilitando atletas trans (homem para mulher) de competirem entre mulheres, notadamente, aquelas que não aceitam passar por tratamentos hormonais.
Assim, casos excepcionais foram justamente registrados em modalidades caracterizadas pelo uso da força, velocidade e resistência, tanto no plano individual como no coletivo, e que o senso comum atribui como espaço que deve unicamente ser ocupado por corpos masculinos. Neste mês de abril de 2017, a equipe infantil do AEM Lleida, ao sagrar-se campeã da Liga de Segunda Masculina, somou-se ao histórico feito da equipe do Alevin (categoria que agrega crianças entre 10 e 12 anos) do Atlético de Madrid Feminino que, há três anos, vence a Liga do Grupo 13 da Comunidade de Madrid. Andrea, a artilheira da equipe catalã, às mídias de imprensa, comentou que os meninos, crendo que esse esporte é somente para eles, ficaram com raiva que elas tivessem vencido, tendo ouvido de um adversário que deveria voltar a casa a fim de auxiliar a mãe na limpeza.
Poucos sabem, mas o futebol já conviveu, respeitosamente, com o autorreconhecimento relacionado ao gênero, o que somente fora possível em razão da questão cultural ter influenciado o comportamento dos demais adversários. A jogadora da Samoa Americana, Johnny Jayiah Saelua, nascida homem, mas identificada, em seu país, como integrante de um terceiro sexo, conhecido como fa”afafine [5], disputou as eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2014, entre os homens, tornando-se a primeira atleta transgênero a competir em um jogo de qualificação para Copa do Mundo. Um comentário feito por seu treinador, Thomas Rongen, em entrevista ao “FC Dallas News”, não só evidenciou a pública posição de Jayiah como pertencente ao sexo fa”afafine, mas levantou suposições sobre os choques culturais que a escalação da zagueira representaria em outras partes do mundo: “Eu realmente treinei uma mulher como zagueira. Você pode imaginar isso na Inglaterra e na Espanha?”.
Parece-nos, portanto, que a análise acerca da competição de homens, mulheres e trans,separadamente ou entre si, deve se dar caso a caso, em virtude da especificidade que cada modalidade carrega, devendo ser levado em consideração se tais participações afetariam um mínimo de incerteza no resultado da pugna esportiva. Atualmente, existem modalidades que aceitam a disputa em categorias mistas, tais como a patinação no gelo, padel, tênis, automobilismo e hipismo, não podendo afirmar de antemão, assim como o senso comum faz para o futebol e outros esportes coletivos, que mulheres não gozariam de chances de vitórias nessas modalidades, contra homens, ainda que, na idade adulta, os traços físicos sejam, na média geral, superiores por parte dos homens.
O mesmo pode ser dito dos esportes, como saltos ornamentais, ginástica artística ou rítmica, em que existe consenso quanto ao fato das mulheres possuírem físicos mais apropriados para executar as técnicas, que lhes favorece na conquista de resultados mais expressivos, ainda se disputados contra homens. Precisamos, portanto, especialmente na idade adulta, testar o “senso comum”, para definitivamente respeitarmos que o esporte de alto rendimento não é local de justiça plena, mas local onde os melhores, dentro de suas capacidades técnicas e físicas se sobressaem. Assim, por que não permitir que homens, mulheres e trans lutem para estar nesse espaço?
Compreendemos ser imprescindível deixar claro que não advogamos por um universo esportivo controlado por federações, sem que existam políticas de separação em categorias, contudo, é necessário que se permita desafiá-las, inclusive, objetivando melhorar o nível de competitividade. Poderiam ser iniciados experimentos nos naipes masculino e feminino, bem como na categoria mista, e, em paralelo, inaugurar nova categoria para aqueles que julgam não se enquadrar no secular sistema binário.
Engana-se quem entenda que bastará uma decisão suprema de determinada entidade internacional com jurisdição e força coercitiva sobre suas filiadas (associações nacionais), permitindo ou não a participação, para a controvérsia estar resolvida. Esse debate atravessará, necessariamente, políticas adotadas na idade escolar, já que a formação do atleta de alto rendimento inicia nesse período. O tema ganha em relevância nessa fase da vida do atleta pelo fato de ser, também, um período de conhecimento e consequente afirmação de sua identidade, o que, a depender da sociedade na qual está inserido, pode se tornar um problema gerado para sempre.
Para exemplificar, uma atleta trans oriunda do Estado da Florida, onde a participação desses atletas ocorre de acordo com o gênero com que se identificam, caso tenha que se mudar para o Estado de Idaho, só poderá competir caso se submeta ao tratamento hormonal, sob pena de estar elegível apenas para participar da categoria masculina. Em um cenário mais extremo, caso tivesse que viver nos estados do Alabama, Carolina do Norte ou Texas, sequer a mudança de sexo teria efeito, já que somente é permitida a participação com base na certidão de nascimento.
Fica-nos evidente ser impossível discutir gênero no âmbito profissional, enquanto a divisão começa na escola. Colocando à prova a matriz ideológica heterossexual, e, também, a matriz que determina que os esportes educacionais sigam os exemplos do viés profissional, será possível diminuirmos as diferenças de oportunidades, deixando apenas de se promover ações de conscientização com faixas carregadas por jogadores na entrada aos gramados ou quadras.
Felizmente, os Estados Unidos demonstram, em alguns estados, que isso é possível, com meninas se juntando aos meninos, nas competições de beisebol e em times de futebol americano das famosas High Schools, e, mais recentemente, no âmbito universitário [6]. No corrente ano, a Confederação Brasileira de Vôlei inovou ao criar uma comissão médica com o intuito de estabelecer critérios para a aceitação de atletas que mudaram de sexo e se definem pertencentes ao gênero oposto, o que consideramos um avanço, pois, demonstra interesse em discutir o tema.
Aspiramos ter esclarecido, ainda que em partes, que a inserção de atletas trans e, porque não de mulheres, ainda é objeto de incessantes discussões e lutas que visam a predominância da tolerância e a convivência respeitosa entre os diferentes. Assim, os direitos humanos, os quais seriam, em linhas gerais, os direitos que cada um de nós, de forma instintiva, entendemos e enxergamos como as condições nas quais deveríamos ser tratados como pessoas, podem sim, contribuir no estímulo a incerteza do resultado dentro do universo esportivo, especialmente, em nosso país, no qual o esporte é profundamente conectado ao estilo de vida de seu povo.
Felipe Bertazzo Tobar Advogado. Pesquisador. Escritor. Mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade pela Univille. Membro do departamento jurídico do Joinville E.C. Professor da pós-graduação em Direito Desportivo da FMU/SP.
Samir Bastos Abdala
Advogado. Especialista em Direito do Estado pela Universidade Federal da Bahia. Autor de obras e artigos jurídicos. Procurador do Superior Tribunal de Justiça, entre outros tribunais. Membro das Comissões de Direito Desportivo e Esportes, ambas da OAB/Bahia. Membro do Instituto de Direito Desportivo da Bahia. Membro da Associação Baiana de Gestão e Marketing Esportivo.
A imagem do post foi gentilmente cedida pela atleta.
REFERÊNCIAS
[1] Deixamos claro que o termo opção, em que pese trazer uma ideia negativa, não se refere à opção psicológica, pois assumimos que essa não se constitui, verdadeiramente, uma opção, sendo, assim, inerente ao sujeito. A imagem pela qual a pessoa se apresenta à sociedade, no entanto, trata-se de uma opção - e aí reside o uso do termo. A atleta opta, portanto, por apresentar-se socialmente e/ou esportivamente em determinado gênero.
[2] “Ela pode tentar se valer do tratamento hormonal, retirar o pênis, mas ainda terá a mesma estrutura óssea que um homem possui. Isso é uma vantagem e eu não acho que isso seja justo. E, se ela se tornar campeã do UFC e nós tivermos uma transgênero sendo campeã do UFC feminino? Isso será uma situação social extremamente difícil”. Disponível em: <http://www.bloodyelbow.com/2013/4/10/4210590/ufc-champ-ronda-rousey-on-fallon-fox-she-can-chop-her-pecker-off-but>. Acesso em: 20 mar. 2017.
[3] Uma “parada de nudismo” foi utilizada nos Jogos Pan Americanos de Winnipeg em 1967. A situação só não foi pior do que o exame manual que foram submetidas atletas nos Jogos da Commonwealth, um ano antes na Jamaica.
[4] CAS2014/A/3759 Dutee Chand v. Athletics Federation of India (AFI); The International Association of Athletics Federations (IAAF).
[5] Jayiha foi a terceira criança a nascer em sua família e, como já existiam dois meninos, na cultura de Samoa, o terceiro filho obrigatoriamente será criado como mulher para ajudar nas tarefas domésticas junto à mãe.
[6] Neste mês de abril de 2017, a atleta Becca Longo, tornou-se a primeira mulher a ser selecionada com uma bolsa de estudos por uma Universidade de Divisão II da NCAA para disputar o campeonato nacional de Futebol Americano. Longo irá atuar na posição de Kicker na Adams University, no Colorado. Disponível em : <http://cnn.com/female-kicker-makes-college-football-history-with-scholarship>. Acesso em: 20 abr. 2017.
Butler, J. (1990) Gender Trouble, New York: Routledge.
Heggie, V. 2010. Testing sex and gender in sports; Reinventing, reimagining and reconstructing histories. Endeavour 34(4): 157–163.
Pfister, G.; Bandy, S.J. Gender and Sport. In: Routledge Handbook of the Sociology of Sport. Edited by Richard Giulianotti. London, 2016.
Pfister, G. (2003) ‘Cultural Confrontations: German Turnen, Swedish Gymnastics and English Sport – European Diversity in Physical Activities from a Historical Perspective’, Culture Sport Society, 6:61-91.
Pieper, L. (2012) ‘Mixed Doubles: Renee Richards and the Perpetuation of the Gender Binary in Athletics,’ The International Journal of the History of Sport, 29 (5): 675-690.
Pieper, L. (2014) ‘Sex Testing and the Maintenance of Western Femininity in International Sport,’ The International Journal of the History of Sport, 31 (13): 1557-1576.
Sullivan, C. (2011) ‘Gender Verification and Gender Policies in Elite Sport: Eligibility and “Fair Play”’, Journal of Sport & Social Issues, 35: 400-419.
Ritchie, R., J. Reynard, and T. Lewis. 2008. Intersex and the Olympic games. Journal of the Royal Society of Medicine 101(8): 395–399.
Katrina Karkazis , Rebecca Jordan-Young , Georgiann Davis & Silvia Camporesi (2012) Out of Bounds? A Critique of the New Policies on Hyperandrogenism in Elite Female Athletes, The American Journal of Bioethics, 12:7, 3-16, DOI: 10.1080/15265161.2012.680533
Genel, M. 2000. Gender verification no more? Medscape Womens Health 5(3): E2. Tian, Q., F. He, Y. Zhou, et al. 2009. Gender verification in athleteswith disorders of sex development. Gynecological Endocrinology 25(2): 117–121.
Cole, C. L. 2000. One chromosome too many? In The Olympics a the millennium: Power, politics and the games, ed. K. Schaffer and S. Smith, 128–146. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Dingeon, B. 1993. Gender verification and the next Olympic games. Journal of the American Medical Association 269(3): 357–358.
Dewey & LeBoeuf. 2010. Caster Semenya on track to return to athletics following IAAF settlement. July 6. Available at: http://www.deweyleboeuf.com/en/Firm/MediaCenter/PressReleases/ 2010/07/CasterSemenyaonTracktoReturntoAthletics.aspx
Olympic Games, Time (10 Aug. 1936); Change of Sex, Time (24 Aug. 1936), both available via http://www.time.com/time/magazine [accessed July 2010].
Levy, A. 2009. Either/or: Sports, sex, and the case of Caster Semenya. New Yorker November 1: 46–59.
Smith, A. D. 2009. Fears for Caster Semenya over trauma of test results. The Guardian September 12. Available at: http://www. guardian.co.uk/sport/2009/sep/13/caster-emenya-gender-testresults
Hurst, M. 2009. Caster Semenya has male sex organs and no wombor ovaries. Daily Telegraph September 11.Available at: http://www.dailytelegraph.com.au/sport/Semenya-has-no-womb-or-ovaries/story-e6frexni-1225771672245
Wiesemann, Claudia. 2011. Is there a right not to know one´s sex? The ethics of ‘gender verification’ in women´s sports competition. Journal of Medical Ethics 37 (4): 216-20.
Bhasin, S., T. W. Storer, N. Berman, et al. 1996. The effects of supraphysiologic doses of testosterone on muscle size and strength in normal men. New England Journal of Medicine 335(1): 1–7.
Soccer Report: America Samoa finally puts 31-0 rout to rest with Cup qualifying W. Disponível em: <http://sportsday.dallasnews.com/soccer//soccerheadlines/2011/11/29/soccer-report-america-samoa-finally-puts-31-0-rout-to-rest-with-cup-qualifying-w>. Acesso em: 20 abr. 2017.
Transathlete.com. Disponível em: <http://transathlete.com>. Acesso em: 20 abr. 2017.
Consenso de Estocolmo sobre Mudanças de Sexo no Esporte
Regulamentos da IAAF para elegibilidade de mulheres com hiperandrogenia
IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism November 2015
Sports Scientists. Hyperandrogenism and women vs women vs men in Sport: A QA with Joanna Harper. Disponível em: http://sportscientists.com/2016/05/hyperandrogenism-women-vs-women-vs-men-sport-qa-joanna-harper/.
Revista Vice. O futuro olímpico de atletas trans e intersexuais. Disponível em: <https://www.vice.com/pt/article/futuro-olimpico-atletas-trans-e-intersexuais>. Acesso em: 20 abr. 2017.
SF Gate. Olympics´transgender quandary / Debate rages on the fairness of new inclusion rule. Disponível em: <http://www.sfgate.com/sports/article/Olympics-transgender-quandary-Debate-rages-on-2749169.php> Acesso em: 20 abr. 2017.
Globo Esporte. Na Italia transsexual brasileira quebra barreiras e joga entre mulheres. Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/na-italia-transexual-brasileira-quebra-barreiras-e-joga-entre-as-mulheres.ghtml>. Acesso em: 20 abr. 2017.







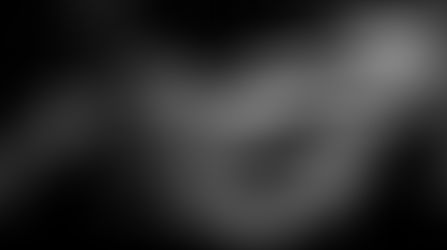













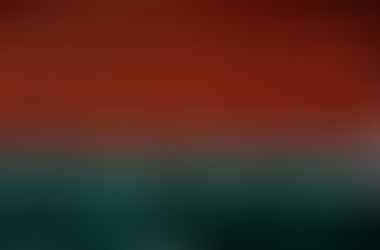






















Comments